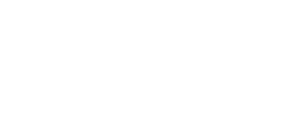O Urso Má-Pêlo era um salteador que vivia com o seu bando nas serras do Vale do Sousa e Valongo e que, de vez em quando, ajudava o meu pai a voltar a pôr em andamento a sua velha carrinha Opel quando calhava de ficar sem água no meio do Marão. O meu pai ser amigo de um salteador e encontrá-lo de vez em quando escondido num bosque de Gandra, ou então quando regressava de trabalhar em Vila Real, parecia-me algo normal. Eu tinha 7 ou 8 anos, não havia sociedade da informação a estorvar a imaginação das crianças, sabíamos contos populares e víamos filmes de cobóis.
Também crescíamos à sombra da lenda do Zé do Telhado, cuja casa de telhado de colmo desfalecia ali perto em Mouriz. Tinha, acima de tudo, um pai que era um bom contador de histórias, manuseando voz e enredo com muita expressividade. O Urso Má-Pêlo, apoiado pelo seu braço direito, o fiel e ladino Zarolho, roubava aos ricos para dar aos pobres, o que o punha logo no lado dos bons deste mundo, de pleno direito.
Como duvidar, insisto, que o meu pai, que conhecia todas as pessoas da nossa terra pelo primeiro nome, apelido e alcunha, ascendentes de várias gerações, filhos e netos, pudesse conhecer um salteador que redistribuía a riqueza e arrebatava as princesas, mesmo raramente tomando banho? Não havia o que duvidar e eu tinha a esperança de, um dia, dar de caras com o Urso Má-Pêlo. Andava de olhos bem abertos, escrutinando todas as sombras entre as árvores, movimentações fugazes e rastos de pobres cheios de dinheiro roubado aos ricos. Instruíra-me para lhe dizer, com a voz colocada da boa educação que a minha mãe me ensinara para essas ocasiões: «Senhor Urso Má-Pêlo, eu sou a filha do Zeca».
A minha paixão por saber coisas dos lugares e das pessoas é, em grande parte, obra do meu pai – e também da minha mãe, com as suas troantes histórias transmontanas, que me faziam sentir arrepios na espinha. Tal como o meu pai, ela sabia nomes e apelidos, alcunhas e famílias, manias e episódios. Mencionar alguém era, em nossa casa, desenrolar um pergaminho – de tal maneira, que cada pessoa é como um livro publicado. Tivemos o tio Serafim, por exemplo. Homem lacónico num clã exuberante e ruidoso, celebrizou-se pela sua grande frugalidade de palavras. Há aquela história de lhe perguntaram se a comida lhe estava a saber bem – «O arrozinho está bom, senhor Mota?» – e o meu tio (numa só nota grave e severa, a crer na imitação do meu pai): «Tá arrooooz!». Vem daí o hoje dizermos de algo «tá arroz» quando uma coisa está regular, como deve estar, nem mais nem menos.
O mesmo acontecia com os lugares. Quando voltei a morar na minha terra, no seu mais puro recanto rural, elas saltaram: este sítio, por ser ainda mais longe quando o carro era um bem raríssimo, ficou conhecido como o canto de África ou ainda, no tempo dessa guerra, como o Vietname. Ando ainda a absorver todas as pessoas e histórias que me rodeiam. Há uns moinhos arruinados que, ainda no tempo da minha infância, moíam farinha. Ando cismada em fazer alguma coisa por eles, que começará precisamente por encontrar a sua história.
Leia também:
Opinião de Dora Mota: uma redoma de paz na Baixa do Porto
Os risos das estátuas da cidade
Opinião: O álbum magistral que dá sentido aos lugares