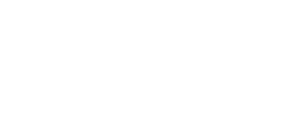Fico um pouco incomodado com o empenho que alguns concidadãos depositam na operação férias grandes. Desde logo porque já não há férias grandes como na nossa meninice, em que apanhávamos tanto sol que mudávamos de pele pelo menos duas vezes. Na nossa meninice aqueles três meses cansavam sem cansar. Tínhamos de dividir os períodos entre praia, jogos de futebol na rua, voltas olímpicas de bicicleta e lancharadas de pão com Tulicreme. Aguentar três meses sem telemóvel, YouTube, Netflix e demais modernices fazia de nós centuriões do debalde, mestres curandeiros da patavina, verdadeiros domadores do tempo. Curiosamente, não tenho memória de ter tido algum surto de tédio.
Os minutos continham uma elasticidade particular, vagarosa, sem vertigens, tudo no seu devido lugar. Não chegávamos ao fim do dia menos cansados. Nada disso. Ao pé de nós, Tom Sawyer era um menino temeroso e contido. Não tínhamos balsas que nos levassem pelo Mississípi, mas os banhos gelados nas margens do Douro alcandoravam-nos ao Olimpo dos rebeldes. Em certo sentido, o perigo sempre esteve associado à diversão nas férias grandes. E perigo, em demasiados momentos, foi sinónimo de imaturidade e loucura.
Durante as férias grandes, julgávamos que tudo nos era permitido, que a nossa vida e a dos que nos rodeavam entrava numa espécie de parêntesis cósmico e que a realidade se alterava para acomodar os nossos desejos e realizações. Havia, nesse desprendimento pueril, um sentido de pertença e camaradagem. Brincavam os da nossa rua, mas também os da rua de cima, ou os que moravam na rua ao pé da nossa escola. E dias havia, dias de campeonatos ferrenhos de “quem cair morre” (uma data de miúdos a andar de bicicleta em círculo a tentar derrubar-se), em que até apareciam tipos não sabíamos bem de onde, mas que conheciam o Zé, o João Paulo ou o Vasco. E essa ténue ligação era o que bastava como passaporte para mergulhar no reduto, para fazer parte da matilha.
Éramos territoriais sem termos território. Durante as férias grandes, os nossos melhores amigos tinham de ser à prova de bala. E de bola. Duas horas de manhã, pausa para almoço, o resto da tarde, pausa para o pão com manteiga, e depois o banho e o jantar. Golos, injustiças, amuos, amassos. Simplicidade genuína. E quando a noite caía, todos cá fora, sentados no muro, a dizer baboseiras, a gozarmos uns com os outros, preparados para, no dia seguinte, repetir tudo outra vez.
Quem não tinha pais ricos, passava assim aqueles três meses. Alguns, poucos, rumavam a sul ou abalavam para o estrangeiro. Mas voltavam sempre, nem que fosse por uns dias, uma semanita que fosse, porque o grupo não desarmava perante o que era importante. Estarmos juntos, nas férias grandes, que eram enormes, que pareciam uma eternidade, mas que passavam num instante. As nossas férias grandes eram uma escola sem professores. Só com alunos.