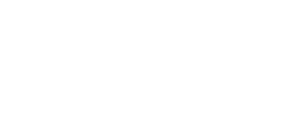A sofisticação da gastronomia resultou em múltiplas virtudes para quem se contorce por um prato deleitoso. A alta cozinha, como tão pomposamente a etiquetamos, produziu não apenas uma salada russa de anglicismos e apêndices linguísticos (cuja missão primordial é alcandorar as refeições a um patamar de endeusamento tantas vezes desmesurado), como fabricou autênticas estrelas de rock. Falo dos chefs. Eles (e elas) que espraiam talento, formação e bom aspeto por capas de revista e programas de televisão. Com tanta entrega e profissionalismo que, progressivamente, nos vamos esquecendo de que ainda há cozinheiros como antigamente. Tradicionais e tradicionalistas. Homens e mulheres de aspeto menos cuidado, vestes mal-amanhadas, de resposta solta na língua, ensinados pelas gerações passadas, pós-graduados, por tentativa e erro, em molhos, caldos, guisados e acompanhamentos vários.
Não há mal que estes dois mundos convivam. Porque haverá sempre quem se encante mais com a ideia de um prato do que com o prato propriamente dito. Serve para a gastronomia, como serve para os sabonetes de alfazema. Querer ter, querer experimentar. O conceito é que nos sacia. Consultem os calhamaços da literatura sobre técnicas de venda.
Sempre nutri, porém, um fascínio especial por aquelas almas que se fundem nos vapores da cozinha, nos antípodas do rebuliço das salas e do vai-e-vém de empregados de mesa, num anonimato autoimposto que parece típico de um regime de clausura espiritual. O despojo que encontramos nestes artífices da simplicidade chega a ser comovente. O carinho que polvilham na comida prova-o. Gosto de os ver nos interstícios, quando aproveitam para entabular conversa com quem passa, ou quando se amparam numa parede, inebriados pelo fumo de um cigarro.
As cartas destes feiticeiros da etnografia não abundam na modernidade, embora me aperceba de que, mesmo os mais conservadores cozinheiros, já vão dando outra atenção a esses detalhes, não só fazendo evoluir a oferta do cardápio para inglês e castelhano, como para estádios de bom gosto gráfico e apresentação visual. Não há neles, todavia, o ritual que vemos inculcado no espírito dos chefs, tendencialmente mais novos, mais urbanos, mais cientes das necessidades de quem come preferencialmente com os olhos. Mas essa fronteira, pelo menos para os cozinheiros que conheço, jamais será ultrapassada.
Para eles a comida tem de valer pelo que é. Por aquilo a que sabe, pela necessidade de não deixar o cliente esfaimado (outro mito sacrossanto: não temos de embrutecer à mesa, mas que raio!, também não temos de ficar com fome). Em certo sentido, é a resistência em não se envolverem no manto brilhante da cozinha do futuro que lhes vinca a autenticidade. Não os distinguirmos nessa montra de vaidades é reconfortante. Na mesa como na vida, as melhores receitas servem-se com simplicidade. Ainda bem que não os vemos nas revistas nem nos ecrãs. Ainda bem que não os vemos tantas vezes sequer nos restaurantes. Basta-nos saber que eles estão lá. Que estão e que ficam.
Leia também:
Opinião de Tiago Guilherme: A nostalgia das distâncias
Crónica de Paula Ferreira: A minha praia cheirava a caril
Crónica de Carina Fonseca: Na minha cabeça ainda tenho férias grandes