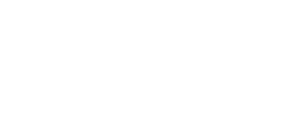Nos anos 1950 e 60 o Porto era cidade atraente para muitos que tentavam ganhar a vida, muitas vezes saídos de aldeias do interior. Raparigas adolescentes vinham trabalhar para casas burguesas como empregadas. Não havia para elas muitas outras alternativas para ganhar vida. Esta é também a história da minha mãe, que de andar a pastorear numa aldeia da Beira Alta teve de se fazer à vida ainda em criança, como os seus sete irmãos. Não atravessou o oceano para o Brasil, como a maior parte deles, mas atravessou as estradas que a levariam à cidade, primeiro à capital, a seguir ao Porto, sempre para servir em casas mais ou menos abastadas. Foi nesta cidade, onde, já em finais dos anos 1970 eu iria nascer, que conheceu o meu pai, lisboeta que se fez portuense ainda em criança (mas essa migração é outra história).
Não cresci, assim, a ouvir histórias de antepassados portuenses, que não os tive. A relação com a cidade não se criou com vínculos a raízes do passado. Começou com a experiência direta do que é crescer na baixa de uma cidade que, não sendo grande, faz-se grande pelas histórias que partilha. Aprendi que o Porto era ‘uma aldeia grande’, como era costume dizer-se ainda não há muitos anos. Apercebi-me do fascínio que provocou a forasteiros que aqui chegaram e por cá ficaram. A estética das ruas apertadas e escuras, com casas de granito escurecido, foi ganhando conteúdo, pelas histórias vividas por mim e por quem aqui passou antes de mim. Percebi para que servem os barcos rabelos, além de embelezarem o rio, e agora passearem turistas, o porquê do nome certas ruas – do Heroísmo, da Firmeza, quem foi Passos Manuel ou quem foram os Aliados que dão nome à avenida principal da cidade.
E o gosto de ser – e de me sentir – portuense foi crescendo. Não como uma espécie de orgulho tribal antigo (até porque ninguém escolhe o sítio onde nasce), mas sim com uma satisfação provocada pelo sentimento de pertença, moldado pelas histórias sobre da cidade e mesmo pelos seus mitos. Habituei-me a chamar-lhe Invicta.
E quanto mais descubro a cidade, mais cresce o gosto por ela. Intensifica-se as relações com o espaço público. Entretém-se a imaginação a pensar nas angústias amorosas de Camilo e Ana Plácido quando se sobe a escadaria do Centro Português de Fotografia, antes a Cadeia da Relação. Imagina-se o mesmo Camilo a percorrer Santa Catarina, onde morou, para ir socializar com a nata da sociedade no jardim de São Lázaro, passando provavelmente pelo edifício do Primeiro de Janeiro, que apenas conheci como um centro comercial; ou lembro a criança Sophia a fazer-se poeta nos jardins da sua casa de família, hoje o jardim Botânico do Porto. Mas também a miséria das ilhas insalubres dos operários ou dos pescadores retratados por Raul Brandão.
Mas isto são apenas instantâneos que aparecem de forma mais ou menos inconsciente; não impedem que veja a cidade com olhar contemporâneo, até porque não tenho outro, pensando nos desafios que os portuenses – ‘de gema’ e ‘adotados’ – atravessam, num período que entre a crise e a efervescência, está a deixar alguns para trás.
Leia também:
Já inaugurou o primeiro parque canino do Porto
Se as peneiras fossem música na cidade do Porto
Porto: 6 bares que merecem uma visita no novo ano